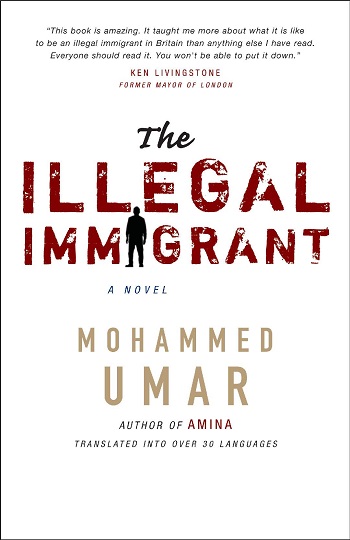No dia 5 de Fevereiro de 2008 Moçambique acordou com uma cara desconhecida: primeiro em Maputo, depois em quase todas as outras cidades, vidros de carros partidos, pnéus queimados, o transporte coletivo paralisado, as urbes desertas. O Governo convocou a associação dos transportadores semicolectivos, e concedeu-lhes um subsídio para eles não aumentarem o preço daquele fundamental meio de locomoção popular, desta forma evitando de “meter as mãos no bolso dos Moçambicanos”. O País voltou ao normal. Mas o alarme tinha tocado. Em muitos não ouviram, ou não quiseram ouvir.
No dia 5 de Fevereiro de 2008 Moçambique acordou com uma cara desconhecida: primeiro em Maputo, depois em quase todas as outras cidades, vidros de carros partidos, pnéus queimados, o transporte coletivo paralisado, as urbes desertas.
Nos dias 1 e 2 de Setembro de 2010 a cena repetiu-se, depois duma constante subida do preço do pão, arroz, leite, água, electricidade, combustível, entre outros. Só que desta vez não havia interlocutores. Silentes os sindicatos, quase totalmente ausentes os partidos da oposição, as novas manifestações (desta vez concentradas na cidade de Maputo e na sua continuação industrial, Matola, e em pequena escala em Chimoio, na Província de Manica) tinham os rostos de adolescentes que se fizeram as ruas, mais uma vez, queimando pnéus, colocando obstaculos nas estradas principais que ligam periferia e centro de Maputo, mas também saqueando lojas, partindo carros, em suma manifestando com uma violência desconhecida até no próprio dia 5 de Fevereiro de 2008. Desta vez as eleições estão longe (as últimas ocorreram nos finais de 2009) e o Governo decide adoptar uma linha “dura”: nenhuma concessão aos manifestantes, definidos, desde as primeiras intervenções oficiais (por exemplo, pelo Ministro do Interior, Pacheco), como simples “agitadores” e “perturbadores”, que só incomodam a quiete pública. Na sua intervenção do dia 2, o Presidente Guebuza, embora usando tons mais conciliadores, volta a sublinhar que os Moçambicanos devem empenhar-se mais no trabalho, e produzir mais. Silêncio absoluto quanto a possíveis concessões.
Depois dalguns dias de aparente calma, e depois de 13 mortos e cerca de 122 milhões de meticais de prejuízos quantificados (outros não são mensuráveis: naqueles dias estava ocorrendo a semana da Facim, a Feira internacional de Maputo, em que os investedores estrangeiros costumam marcar uma presença massiva. Claro que eles não tiveram exactamente uma sensação positiva de Moçambique), o Governo, reunido no dia 7 de Setembro em sessão extraordinária, muda a sua estratégia política, e concede (até o fim deste ano) tudo o que não tinha concedido anteriormente: uma série de subsídios directos que irão deixar invariado o preço do pão, da água e da energia, a contenção da despesa pública, com medidas também de efeito (limitação das viagens de helicoptero no seio do país pelo próprio Presidente da República), a promessa de implemetar melhor as reformas necessárias para garantir a sustentabilidade no longo prazo da economia moçambicana.
Logo, abre-se o debate: quais as causas que provocaram as manifestações?
Expertos dos vários âmbitos disciplinares confrontam-se quanto a esta questão que, do meu ponto de vista, tem uma característica: ela é retórica, ou seja a resposta é de antemão conhecida. Por isso parece oportuno mudar de paradigma, questionando-nos sobre o porque, em Moçambique, o povo foi tão paciente de esperar até Setembro de 2010 para manifestar a sua raiva contra uma situação de vida miserável, que torna impossível as existências da grande maioria dos cidadãos desse país, perante a uma minoria sempre mais rica e poderosa.
Apenas uma constatação entre o pessoal e o sociológico: quando, de manha, me dirijo à minha faculdade na Universidade Eduardo Mondlane, tenho de atravessar a Avenida Julius Nyerere: ali é muito raro encontrar carros que não sejam 4 x 4 da última moda, enquanto que os edifícios na beira desta maravilhosa estrada não têm nada a invejar aos das grandes capitais ocidentais. Os preços das rendas, mensalmente, podem chegar até 4.000 ou 5.000 USD por cada um desses luxuosos apartamentos e vivendas. Ao mesmo tempo a avenida é frequentada por um grupo (sempre mais numeroso) de meninos da rua, à procura do pão para o seu sustento. Eles vivem num esconderijo muito próximo à Avenida Julius Nyerere, e passam a frente das várias sedes dos grandes bancos, africanos e europeus: Standard, Millennium, Barkley. Sempre penso que, na Europa, fica difícil encontrar um contraste tão gritante entre pobreza e desespero extremos e riqueza. E acredito que uma grande parte da resposta às manifestações do dia 1 e 2 de Setembro tenha que ser procurada nessa avenida.
É obvio que estou a falar, até agora, de impressões que pouco têm de científico. Por isso pretendo levar a cabo um raciocínio mais sólido exactamente para comprovar quanto acabo de dizer. Para o efeito debruçar-me-ei sobre três eixos:
A situação económica do país;
O debate em volta dela, antes e depois das manifestações de Setembro;
Uma breve análise a respeito da gestão de tal situação, vislumbrando uma hipótese final, que não poderá ser aqui demonstrada: uma debil consciência da “gestão do risco”, que constitui uma das características fundamentais dos actores públicos moçambicanos.
O “milagre” moçambicano
Desde os Acordos de Paz em Roma, aos 4 de Outubro de 1992, Moçambique constituiu o alvo privilegiado dos doadores internacionais, a meta predileta das suas políticas de apoio económico-financeiro e dos seus discursos nas importantes reuniões internacionais. Dias atrás, em ocasião duma sessão das Nações Unidas, o próprio Presidente americano, Obama, tem citado este país como exemplo no que diz respeito ao alcance dos Objectivos do Milénio (ODM).
De facto, desde os meses que antecederam a assinatura dos Acordos de Roma, a comunidade internacional tem-se comprometido de forma massiva para fazer com que esta antiga colónia do Império português encontrasse uma sua estabilidade, que lhe permitisse de sair duma fase de guerra civil que durou cerca de 16 anos. A reconstrução foi feita a partir duma base de cerca de 320 milhões de USD[1], mais vários outros donativos que foram oferecidos pelos vários Estados “amigos” (recentes e antigos) ao longo do tempo, quer de forma directa (o budget support cobre, até hoje, mais que a metade do inteiro orçamento geral do Estado) ou mediante projectos específicos. Desta maneira foi possível realizar, apenas dois anos depois da assinatura dos Acordos, eleições gerais livres, que repetiram-se, até hoje,por mais três vezes, com o ininterrupto sucesso da Frelimo, o partido que levou a cabo a luta de libertação nacional contra os Portugueses, tornou-se, sob a direção de Samora Machel, marxista-leninista (1977), e finalmente converteu-se ao liberalismo (1986), quer no âmbito político (Constituição de 1990), quer no económico (liberalizações mas, sobretudo, privatizações).
Desde esta altura, Moçambique tornou-se um país “modelo”, com uma concentração enorme e crescente da ajuda internacional. Os índices de crescimento económico sempre têm sido vislumbrantes; falando do período mais recente, nos últimos cinco anos a taxa média de crescimento foi de 7,8%, com um abrandamento em 2009, o “ano negro” da economia mundial, em que o crescimento colocou-se entre 4 e 5%. Os observadores, internacionais mas sobretudo nacionais, interpretaram esse constante trend positivo de forma basicamente acrítica, negligenciando de levar a cabo sérias análises estruturais no que respeita a economia viva moçambicana. Por exemplo, eis a optimistica visão do economista moçambicano Basílio Muhate, ainda no princípio de 2010: “Um dos factores que levou a que Moçambique não fosse significativamente afectado pela crise foi o facto de o País ter um sistema financeiro fraco e ainda desintegrado, o que ofereceu alguma protecção (...). Por outro lado, as medidas de política económica levadas à cabo para fazer face as crises alimentar e financeira recentes, que incluiram subsídios aos pequenos agricultores e instalação de silos, os projectos da área de biocombustíveis iniciados em 2008 (...) estão a ter impactos positivos nbo sector da agricultura”.[2] A tese da relativa impermeabilidade da economia moçambicana face à crise internacional tem sido defendida praticamente por todas as entidades governamentais, desde o Banco Central até o executivo. Parece pleonástico comentar as razões que (como no caso do supramencionado economista) levaram a tanto optimismo; dizer que a economia moçambicana é demasiado fraca e que isso ajuda na defesa interna perante a crise internacional que tem alastrado todo o mundo, é argumento desprovido de qualquer raciocíno não apenas económico, mas simplesmente lógico. De facto, é exactamente a partir dessa fraqueza estrutural que seria oportuno iniciar a perceber porque, primeiro no dia 5 de Fevereiro de 2008, e depois nos dias 1 e 2 de Setembro de 2010, Moçambique despertou-se com uma cara diferente, muito menos pacífica e tranquila da que costumava mostrar nos cenários internacionais antes desses acontecimentos.
Nem todos concordavam com análises tanto superficiais. Alguns exemplos são suficientes para tentar demonstrar que havia sinais preocupantes de que a economia local estava atravessando um estado de crescimento não plenamente autêntico, mas sim fomentado graças a injeções financeiras externas, que muito pouco ajudavam no fortalecimento da capacidade produtiva real. Em 2004, um jornal local, citando uma pesquisa do Banco Mundial, realizada por A. Panguene e C.Muendane, escrevia que “existem fortes sinais de que a indústria moçambicana está na fase de estagnação e começa a regredir”, com os sectores da agro-industrialização e a pesca a desempenhar um papel “insignificante”, concentrando-se grande parte do crescimento nos serviços.[3] Além disso, um dos indicadores-chaves para mostrar o rumo do crescimento, o Índice de Gini, ao longo dos anos centrais da decada de 2000, andou aumentando constantemente, facto que demonstra uma disparidade sempre mais relevante entre ricos e pobres.[4] Todavia, ainda em 2010, os dados macroeconómicos são extremamente encorajadores: no segundo semestre a taxa de crescimento coloca-se em 8,8% (no primeiro 9,3%), desenhando desta forma uma situação invejável.
Há, porém, dois reparos que é preciso fazer: por um lado, a economia real de Moçambique é verdadeiramente pobre, insignificante ao nível mundial mas também regional. Hoje, depois da revolta de Setembro, parece que todos os observadores concordem com isso, mesmo os actores institucionais. Eis o que o jornal “oficial” do país reporta, citando o Governador do Banco Central, E. Gove: “O Governador do Banco de Moçambique voltou a reafirmar ontém em Maputo que a economia continua a produzir menos do que consome, que as importações superam o nível das exportações, criando deste modo um problema estrutural que se reflecte no facto de a despesa pública ser superior às receitas cobradas pelo Estado”.[5] Ao mesmo tempo (concordando com o porta-voz do Governo, Nkutumula), o Governador Gove defende que a alta dos preços da cesta básica verificada-se nos últimos meses em Moçambique deveu-se sobretudo ao desembolso tardio dos 467 milhões de dólares por parte dos doadores que suportam directamente o orçamento do Estado. Este atraso foi devido, na verdade, a uma longa contratação entre doadores e Governo, em que os primeiros exigiram compromissos sérios do lado do segundo quanto à luta contra a corrupção e a uma maior transparência na gestão dos fundos doados. Na verdade, o clima entre as duas partes tornou-se pior ao longo do processo eleitoral dos finais de 2009, quando a CNE (Comissão Nacional das Eleições) decidiu de excluir de nove círculos eleitorais (ou seja quase todo o país) o recém-formado partido MDM (Movimento Democrático de Moçambique), liderado pelo emergente David Simango, Presidente do Conselho Municipal da Beira, segunda cidade do país, por motivos formais. Apesar disso, esta formação conseguiu nove assentos na Assembleia da República, sem todavia ameaçar a esmagadora vitória da Frelimo, que detém, agora, a maioria qualificada e, portanto, pode proceder autonomamente a qualquer tipo de reforma, mesmo de cariz constitucional.
Certamente que o atraso no desembolso dos ditos fundos contribuiu a aumentar as dificuldades conjunturais do Governo e do país, entretanto e além das causas apenas recordadas, há motivos de natureza estrutural que nunca têm sido enfrentados de forma profunda. No debate em volta das causas que supostamente deviam ter provocado os “tumultos” de Setembro, todo o mundo descobre estas falhas na economia moçambicana, inclusive as fontes oficiais: como o facto de que 10 mil toneladas de milho ficam nas mãos dos camponeses, não havendo estruturas própria para efeitos de comercialização; ou que, em 2009, foram produzidos 257 milhões de toneladas de arroz em casca, mas apenas 163 milhões de arroz limpo, com uma necessidade nacional de 558 milhões, facto que faz com que o défice do produto básico na alimentação dos Moçambicanos seja de 238 milhões de toneladas, que devem, portanto, serem importadas. O como o facto que, face a uma necessidade nacional de 427 milhões de toneladas de trigo, Moçambique só consegue produzir 22 milhões de toneladas, com um défice de 404 milhões de toneladas/ano.[6] Por outro lado, vários estudos de tipo principalmente sociológico tinham assinalado, ao longo dos anos mais recentes, como o modelo de crescimento do país fosse insustentável no plano propriamente social. Até hoje, mais de 10 milhões de Moçambicanos (numa população global de cerca de 20 milhões) vivem em condições de pobreza “absoluta”; em cada província contam-se qualquer coisa como 500.000 indivíduos muito pobres.[7] Apesar da aparente concordância entre o Governador do Banco Central, Gove, e o Governo no que diz respeito ao desembolso dos fundos prometidos pelos doadores internacionais, há mais que um boato que quer que alguns ministros tenham pedido a cabeça do próprio Governador, uma vez que este teria ocultado o impacto da crise financeira internacional em Moçambique.[8]
Concluindo este primeiro ponto é possível tirar algumas conclusões:
O problema fundamental não assenta – como costuma-se dizer – na “distribuição” da riqueza: por detrás disso há uma questão de escassez produtiva, principalmente no âmbito alimentar (e portanto no sector agrícola), até agora não resolvida;
Depois existe um problema de distribuição de riqueza. Mas temos que perguntar-nos “de qual riqueza”? Certamente não daquela que o país não produz, mas da que provém dos doadores internacionais. Esta riqueza, que é muita e tem o perfume dos dólares, costuma ficar no Sul do país e, sobretudo, no interior duma pequena elite, que a ostenta sem grandes receios, perante a lastimável miséria dos outros (o modelo “Avenida Julius Nyerere”);
Finalmente, temos que reparar que os próprios dados macroeconómicos são, em parte, não verdadeiros. Por exemplo, Moçambique exporta uma enorme quantidade de aluminio devido a presença da Mozal, uma fábrica de fundição desse material com capital australiano. Ela contribui por 76% para as exportações globais do país, mas fica claro que os lucros desse grande empreendimento dirigem-se para fora de Moçambique, ou seja para Austrália. Apesar disso, desde 2004 Moçambique tem uma balança comercial em constante défice. Se a isso acrescenta-se que, como acima recordado, o orçamento geral do Estado depende por mais de metade dos doadores internacionais, percebe-se sem dificuldade que a economia moçambicana não só é fraca, mas que foi exactamente esta fraqueza a ter determinado a subida dos preços ao longo dos últimos meses que tem provocado as agitações de Setembro. Tudo importando, e dependendo inteiramente do preço dos bens (a partir do petróleo) no mercado internacional, o país tem defesas extremamente frageis que, quer em 2008, quer em 2010, reduziram-se a “subsídios” (no primeiro caso as gasolineiras para não incrementar o preço do combustível e, portanto, do fundamental transporte público, no segundo à venda do pão) e outras medidas de curtissimo prazo, que visam acalmar a situação e ganhar tempo para compreender o que, de mais concreto e duradoiro, será possível fazer.
As manifestações de Setembro e a sua gestão
As manifestações registadas no início de Setembro em Maputo têm, portanto, causas evidentes e até óbvias, como demonstra, por exemplo, a reflexão do Observatório Eleitoral, chefiado pelo antigo Reitor da Universidade Eduardo Mondlane e também primeiro Presidente da Comissão Nacional das Eleições, Brazão Mazula, cujos membros, convidados pelo Presidente da República, concluiram que “muitas pessoas, maioritariamente jovens, fizeram-se à rua (...) para expressar o seu descontentamento devido à crescente subida dos preços dos produtos básicos, nomeadamente o pão, energia e água”.[9] Em contrapartida, o debate foi monopolizado pela mídia que, de acordo com o seu papel, depois das primeiras horas da revolta (sobretudo graças à cobertura da STV, a principal emissora televisiva privada do país), começou a solicitar a intervenção de expertos e opinionistas, mediante uma pergunta fundamental: qual a causa das manifestações?
Desta forma, quase todos se debruçaram sobre esta questão, que deu bastante visibilidade naqueles dias. Mas, francamente, as conclusões desta discussão têm sido bastante pobres. Por isso defendo que é preciso pensar naquelas manifestações por meio dum paradigma diferente. Por exemplo, há algumas questões que apenas poucos observadores colocaram, e que gostaria aqui de recordar. Entre elas, eis algumas:
Como é que foi organizada a manifestação?
Quem a protagonizou, aliás, quem a planificou?
Quais os cenários que se abrem, quer do ponto de vista puramente político, quer no que diz respeito ao relacionamento entre Estado e Cidadão?
Vou tentar dar respostas sucintas a cada um desses pontos.
A manifestação foi organizada através de formas de comunicação tipicamente “informais”, ou seja por meio de sms. Isto é, em parte, admirável, mas também constitui uma constante na vida política “subterranea” do Moçambique recente. Por exemplo, muita piada, de vária natureza, inclusive sobre os principais representantes do Estado moçambicano, costuma passar via sms; e esta situação repetiu-se em ocasião da explosão do Paiol militar, em Maputo, em 2007, que provocou mais de 100 mortos e cerca de 500 feridos, e das primeiras manifestações populares do dia 5 de Fevereiro. Essas formas de autorganização da sociedade são peculiares de situações em que a liberdade de expressão pública do cidadão ainda não é completamente livre (embora Moçambique tenha feito progressos relevantes nesta vertente, como mostra o debate presente na imprensa independente e, em parte, também na governativa) e, sobretudo, em que as possibilidades de aglutinar as pessoas em formas associativas abertas permanece fraca. Basta pensar que, na vizinha África do Sul, os trabalhadores da função pública ficaram de greve durante um período bastante longo, através da acção dos poderosos sindicados de categoria, coisa impossível em Moçambique, em que praticamente não existem organizações sindicais dignas deste nome. É também verdade que, ao nível político, as forças que poderiam interceptar o descontentamento da multidão, ou seja os partidos da oposição, não estão nas condições de fazê-lo: a Renamo está numa inelutável parabola descendente, enquanto que o MDM é um partido novo demais para conseguir liderar esse tipo de manifestações. Portanto a única, séria possibilidade, da parte do “povo”, era exactamente uma autorganização atípica e muito mais “movimentista” (ou “pré-política”, como várias vezes tem destacado o sociólogo Carlos Serra) do que propriamente política. O resultado foi que as revoltas foram “sem rosto”, ou seja protagonizadas por adolescentes que nada sabem de política, mas que já estão fartos da situação de miséria que diariamente vivem. E muitos deles foram entre as vítimas mortais dos tiros perdidos da polícia. Na tarde e na noite do dia 1 de Setembro, até os dias seguintes, não era possível mandar e receber sms. O Ministro dos Transportes e Telecomunicações, Zucula, solicitado em fornecer explicações, pura e simplesmente negou qualquer tipo de intervenção, do lado do Governo, nas duas operadoras que acutam no País, a privada Vodacom e a pública Mcel. Pelo contrário, um dos principais semanários independentes de Moçambique, “Savana”, publicou, na sua edição do dia 17 de Setembro, uma reportage, com tanto de foto, a comprovar que, de facto, a Vodacom (sede de Johannesburg) confirmou que houve uma ordem do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique finalizado a bloquear os sms naqueles dias “quentes”.[10]
A questão que se levante, aqui, éa seguinte: primeiro, será que o Governo (ou uma sua entidade indirecta) tem a capacidade legal para fazer isso, sem antes declarar oficialmente o “estado de sítio”? Segundo (e mais relevante): uma vez achada oportuna, porque não comunicar esta medida aos Moçambicanos, cujos contactos diários baseiam-se nas mensagens telefónicas? Mas há um terceiro aspecto, que tem muito a ver com a “gestão do risco”: é desses dias (finais do mês de Setembro) a notícia que o Governo, ao nível mais alto (Conselho dos Ministros), deu prazo até os finais de Novembro para que os possuidores dum celular com contrato pré-pago se registem na entidade competente, associando o nome do titular ao número de telefone. O facto de esta medida ter sido tomada “a posteriori” diz muito a respeito de como o Estado moçambicano, até hoje, tenha abordado as questões relativas ao controlo, vigilância e prevenção da ordem pública. Isso quer dizer que, por exemplo, nunca tenha sido levada a cabo uma acção de intelligence alicerceada no controlo da telefonia móvel de possíveis indiciados de reato, técnica investigativa hoje em dia imprescindível na luta a criminalidade. Ter tomado só depois das manifestações de início de Setembro uma tal medida significa que, por um lado, as autoridades têm percebido perfeitamente done pode provir o perigo e, por outro, que a acção de prevenção do risco dirigir-se-á ao controlo do povo mais que dos criminosos.
Em ausência desses meios de investigação, torna-se bastante complicado apurar quem é que esteve por detrás das manifestações. Portanto só vai ser possível fazer algumas, simples ilações. A primeira hipótese é que se trate duma manifestação verdadeiramente espontânea. Hipótese possível, mas que tem uma lacuna: ou seja que os que se fizeram à rua, rapazes ou pouco mais, dificilmente têm a capacidade de protagonizar movimentos populares tão significativos e tão violentos, sobretudo num país como Moçambique. A segunda é que haja uma mão “invisível”, embora, neste caso, tenhamos várias subordinadas, especialmente duas. Por um lado, pode ter havido uma planificação de entidade oficialmente organizadas, por exemplo sindicados ou partidos da oposição. Só que, além da supracitada fraqueza dos uns e dos outros, seria pelo menos estranho que essas forças não assumissem abertamente a responsabilidade de quanto acontecido, uma vez que o alvo principal das manifestações foi exactamente o Governo. Por outro lado, temos a hipótese “do comploto”, que foi levantada pela primeira vez pelo Ministro do Interior, na sua primeira declaração na televisão no dia 1 de Setembro, chamando em causa os “grandes” que estariam sentados no sofá de casa, mas que supostamente teriam dado origem às manifestações.
Esta possibilidade – de certeza a mais inquietante enquanto a mais obscura – foi retomada pelo jornalista da STV, Jeremias Langa, mas sobretudo por alguns semanários independentes, que a desenvolveram bastante, enquanto que, do lado do Governo e do próprio partido Frelimo, nunca mais houve pronunciamentos tão explícitos como o do Ministro Pacheco acima recordado. Por exemplo, “Zambeze”, no seu editorial da edição do dia 7 de Setembro, torna bem clara esta hipótese. No editorial o anónimo autor pergunta-se: “quem organizou a greve? Para nós, o barulho sai dentro das alas que se digladiam no seio da Frelimo (...). Duas fortes alas que reivindicam hegemonia político sócio-cultural na esfera dos destinos do país. E os componentes destas alas têm rostos. Rostos esquecidos no tacho. Rostos frustrados por decisões do PR. Rostos ignorados no processo decisório, rostos embalsamados na titânica luta empresarial”.[11] Difícil dizer quais dessas hipótese possa ser a certa; o que parece claro é que o cenário político moçambicano já não é o mesmol, depois dos factos de Setembro. E a mudar de forma bastante repentina é exactamente o mundo dentro do partido no poder, nas suas várias diramações e manifestações: o antigo Presidente, Joaquim Chissano que, no dia 7 de Setembro, poucas horas antes do Conselho dos Ministros que assumirá a decisão de mudar a sua estratégia política, fazendo concessões notáveis aos manifestantes, aos microfones televisivos defende que o Governo deveria dialogar mais com os Moçambicanos; um dos antigos combatentes mais destacados, o General Bonifácio Gruveta, actual deputado da Frelimo, que afirma, numa entrevista a um semanário independente, que “O Governo errou ao subir tudo de uma só vez, o povo já não estava a aguentar”;[12] finalmente, o semanário governativo, “Domingo”, que, comentando a decisão de o Chefe de Estado não se fazer presente na 65ª Assembleia Geral das Nações Unidas (motivada pela necessidade de conter as despesas públicas), não poupa as críticas, escrevendo que “há despesas e despesas”, e de certeza que “A participação do Chefe do Estado é, em si mesmo, uma óptima ocasião para chamar a atenção da comunidade internacional (...), para mobilizar a solidariedade dos parceiros internacionais (...). Achamos que foi pena que o Presidente da República se ausentasse da Assembleia Geral”.[13] Críticas tão duras e abertas, provenientes do interior do partido no poder, nunca tinham atingido este nível. Isso pode não querer dizer nada, ou, pelo contrário, pode significar a abertura duma nova fase, dentro e fora da Frelimo, pertante as crescentes dificuldades do Governo em gerir uma situação estruturalmente difícil.
O novo cenário é imprevisível, ainda mais porque as ciências sociais não têm essa capacidade. Portanto o nosso raciocíno só pode ser de curto prazo. As medidas que foram tomadas conseguiram acalmar os ânimos, o problema é que elas são transitórias (até Dezembro de 2010) e subsidiadas através do orçamento do Estado que, portanto, terá que procurar receitas alternativas para cobrir estes gastos imprevistos. O que acontecerá a partir de Janeiro é um mistério. O que parece certo é que, mesmo se a situação económico-financeira melhorar, o problema estrutural, duma produção modesta, sobretudo no âmbito agrícola, mantém-se. A carência alimentar não é assunto que poderá ser resolvido tão já. Para tentar solucioná-lo provavelmente vai ser preciso intraprender uma via até agora nem tomada em consideração: a dum empenho massivo, do Governo Moçambicano assim como dos doadores, em investimentos directos neste crucial sector. Com efeito, torna-se sempre mais improvável que os empresários internacionais decidam de investir em grande escala no País olhando pelos recursos agrícola. Hoje em dia Moçambique está-se tornando um sítio de interesse sobretudo no que concerne carvão, gas, talvez petróleo e biocombustíveis, turismo, grandes obras: mas não agricultura. É por isso que, sem a intervenção da mão pública, a produção de géneros alimentícios continuará insuficiente, obrigando Moçambique a continuar importar comida que poderia muito bem produzir internamente. Por outro lado, os doadores também deveriam concordar com isso, canalizando grande parte dos seus fundos na agricultura e limitando as atenções para com outras áreas. Obviamente este discurso constitui apenas uma gota no mar, mas coloca-se dentro dum raciocínio político que tenciona, mais uma vez, convidar na reflexão sobre o actual paradigma que orienta as estratégias do País.
Moçambique não decide a sua agenda sozinho, mas em estreita colaboração com os doadores. Pode haver choques entre esses dois sujeitos, porém dificilmente eles discordam quanto às prioridades: grandes obras, investimentos massivos em sectores que pouco dão a Moçambique e muito garantem aos investedores (a energia é o primeiro, neste sentido). Seria pelo contrário desejável partir duma ideia de desenvolvimento “possível”, em que as necessidades das comunidades estariam em primeiro lugar. Por exemplo, muitas das vezes vale mais alcatroar e tornar transitáveis cinco estradas de distrito que construir uma autoestrada, ajudando as pequenas economias a entrarem em contacto com os mercados urbanos, reduzindo de tal maneira distância e custo de transporte e, portanto, incentivando a produção de comida mediante uma mais viável comercialização. Medidas dessa natureza não dão grande visibilidade, sobretudo aos doadores, mas podem contribuir, gota a gota, a tornar possível pelo menos a meta da autonomia alimentar do País, cheve sem a qual nenhuma porta poderá ficar aberta durante muito tempo.
* Luca Bussotti, sociólogo, é Director Adjunto à Investigação e Extensão na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique.
*Por favor envie comentários para [email][email protected] ou comente on-line em http://www.pambazuka.org
[1] Vide R. Morozzo della Rocca, Moçambique da Guerra à Paz, Livraria Universitária, Maputo, 1998.
[2] Vide www.macuablogs.com
[4] V. L. Bussotti, L’autonomia impossibile. La parabola politica dello stato mozambicano contemporaneo, em L.Bussotti/S. Ngoenha (Org.), Il postcolonialismo nell’Africa lusofona. Il Mozambico contemporaneo. O pós-colonialismo na África lusófona. O Moçambique contemporâneo, pgs. 83-106, L’Harmattan Italia, Torino, 2006.
[5] “Notícias”
[6] Declarações de Marcelo Chaquisse, Director nacional-adjunto dos Serviços Agrários, reportadas em “Domingo”, 19/09/2010, p. 7.
[7] Estudo do Centro de Estudos da População e Desenvolvimento da Universidade Eduardo Mondlane, do PNUD e do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, citado em “A Verdade”, 19/09/2010, p. 7.
[8] M. Munguambe, Ministros pedem cabeça de Gove, “Público”, 06 de Setembro de 2010, p. 5.
[9] Pobreza urbana eventual causa das manifestações, “Notícias”, 16 de Setembro de 2010, p. 3.
[10] Grupo Vodacom confirma ordem de bloqueio, “Savana”, 17.09.2010, p. 3.
[11] Manifestações têm rosto das alas da FRELIMO, “Zambeze”, 9 de Setembro de 2010, p. 7.
[12] A. Zefanias, “O Governo errou ao subir tudo de uma só vez”, “Savana”, 17.09.2010, p. 2.
[13] A ausência do Chefe do Estado na Assembleia Geral da ONU, “Domingo”, 19 de Setembro de 2010, p. 2.
- Log in to post comments
- 1637 reads