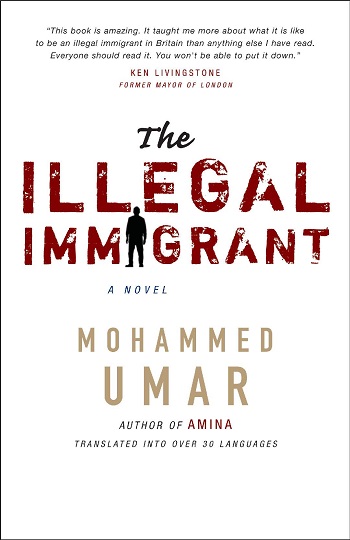Neste belo texto, Ondjaki rememora seus tempos de vida em Luanda, Angola, nesse sentido ele traz a baila a vital importância da voz dos mais velhos na contribuição de uma dada ordem social, além do mais, o seu lugar na constituição igualmente vital de uma memória coletiva e prosaica. A África de Ondjaki é o espaço geográfico onde as pessoas também se querem felizes. E são!
Raízes e asas. Mas que as asas enraízem/ e as raízes voem.” Juan Ramón Jiménez
Cresci num tempo e num lugar onde havia gente de todas as cores e peles para todos os tons.
Nesse tempo, um mais-velho era um mais-velho. Na Luanda em que cresci respeitávamos os gestos, as vozes e as estórias dos mais velhos.
Nós, as crianças, éramos crianças de inventar tudo outra vez. Como se inventássemos, entre nós, um modo de contar as coisas, e de as sabermos dizer já aumentadas. Os mais-velhos sorriam, descansados, porque esse era o modo de as coisas acontecerem tranquilamente, de boca para ouvido, de voz para sorriso.
Tudo isto se passava numa cidade muito urbana, cheia de políticos ocos e de uma ideologia que se experimentava ali para ver se resistia aos fortes ventos internacionais mais ou menos comunistas, mais ou menos imperialistas.
Os meus mais-velhos eram mais-velhos de cidade. A Avó Maria da Praia do Bispo que vendia kitaba e falava um kimbundu que nós, as crianças de Luanda dos anos 80, não sabíamos falar. A minha avó de sangue, mãe da minha mãe, que falava um português corretíssimo e cujas estórias, contadas e aumentadas ao longo dos anos, falavam de casos urbanos, do Sul e do Centro, de traições, de feitiços preparados e acontecidos em cidade, de mulheres que pariam sacos de formigas ou bebés com cabeça e asas de pássaro que fugiam da maternidade porque a janela estava aberta e voar era talvez melhor destino que ser simplesmente humano. O meu avô de sangue deixou a escola porque a professora lhe batia demais e com doze anos decidiu ser pescador, como o pai dele. Passou cinquenta e cinco anos no mar, mais de treze horas por dia a navegar, primeiro navegou a vento, depois navegou a diesel, e no fim dos seus dias todas as suas palavras, os seus sonhos, os seus provérbios e as suas verdades, eram construídos a partir de universos molhados e cheios de sal. Se recuar um pouco mais no tempo, chego ao meu bisavô holandês loiro de olhos azuis que chegou a Cabinda e se juntou à minha bisavó negra de olhos escuros para fazerem a minha Avó, mãe da minha mãe, que um dia me disse que o futuro não era um segredo, só que para chegar a ele tinha que se saber olhar muito para trás.
Cresci nesse lugar cheio de estórias urbanas, portanto a oralidade que conheço e que me foi passada, aconteceu num cenário urbano, alimentado pelas constantes faltas de água, de luz, e referências a todas as guerras que aconteciam muito mais a Sul de Luanda. A escola foi, verdadeiramente, a minha segunda casa, e naquele tempo, em pleno socialismo angolano, disseram-me – e eu acreditei – que “a caneta era a arma do pioneiro”.
Sem querer, ou porque era já o destino, a caneta transformou-se em algo tão importante para mim, quanto íntimo. Escrevi porque me era urgente escrever; falava do que sentia, não para contar realidades angolanas, ou africanas, mas para ouvir e ler o eco de tudo o que eu tinha ouvido ou visto. Mais tarde, confrontado com as perguntas daqueles que julgam que o continente africano é um só país, algumas reflexões me foram chegando e tive que as frequentar.
Entendi que um lugar, mesmo que demarcado geograficamente, era e seria sempre um espaço de variedades linguísticas que apontavam, obviamente, para variedades étnicas e culturais. Entendi que a modernidade e todas as suas consequências, as boas e as más, não eram exclusivo da América ou da Europa. Todo o continente africano, nas suas múltiplas crenças, cores, tradições, ideologias, expressões tradicionais e expressões tradicionais revistas pelos criadores atuais, todo esse continente era uma entidade viva e dinâmica. Secular e complexa. Sofrida e ternurenta. Cheia de estórias contadas e repleta de estórias secretas.
Os autores africanos que eu lia, ou pelo menos assim eu os li, iam murmurando verdades suaves: que a literatura se fazia dos lugares, das geografias, das cores e das gentes, mas que os lugares eram, também, coisas internas; que o escritor, africano ou outro, podia falar do seu lugar e partir das suas tradições para se reinventar na sua ficção, mas não esquecendo que no ato sagrado da escrita, as geografias que mais gritam, são as de dentro; as que abordam a sua proveniência, que fazem falar criativamente sobre as verdades do continente com a habilidade de não ferir a dignidade da nossa casa e dos nossos mais-velhos. Os autores que eu lia ensinavam-me a respeitar os deuses inventados e os deuses de verdade – porque os deuses afinal não passam de espectadores ávidos de encontrar um bom sonho ou uma boa estória. E as boas estórias são os nossos trilhos internos, as nossas verdades sociais e a nossa capacidade de saber contar o que é sagrado e tem de ser dito – para mais tarde ser repetido. Ou como diria o poeta Juan Ramón Jiménez, “as árvores não estão sós: estão com suas sombras.” Eu penso que todas as vozes e todas as estórias também podem ter sombras.
Certa ocasião, no sul de Angola, encontrei um mais-velho pescador que dava costas ao mar para ficar, quieto, a olhar o deserto. Mas olhando como quem pesca. Em busca de um camaleão. Um camaleão de um corpo só e mil cores nas suas escamas, e mil sonhos que aparecem escondidos no seu olhar; um só olhar com muitas coisas contempladas; apenas quatro patas, mas milhares de marcas desenhadas na areia.
Dizia o mais-velho, como quem pescava palavras:
“…o camaleão não repete as pegadas dele, não é porque não sabe o caminho de volta; é porque lhe interessa mais estar sempre a pisar um chão que ainda nunca tinha pisado…”
Sou de um país onde um mais-velho é um mais velho. Onde cada gesto e cada olhar pode ser uma verdade ou um segredo. Para mim, um camaleão solitário de rosto virado para o chão, não esqueceu nunca a cor do Sol. Ele apenas busca a certeza daquilo que já pressentiu: que é num chão profundo que o arco-íris esconde e inventa as suas raízes.
…
Nasci e cresci num país livre, com muitos problemas, com todas as guerras que atravessámos, e com uma gente e uma cultura maravilhosa.
Um país africano, com todas as questões modernas confrontando-se com todas as questões tradicionais… em direção ao futuro….
Cresci num país de gente com vontade de ser feliz.
Felizmente, cresci num país livre.
*Ondjaki é escritor angolano, participou em Terceira Metade no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
**Por favor envie comentários para [email][email protected] ou comente on-line em http://www.pambazuka.org
- Log in to post comments
- 470 reads